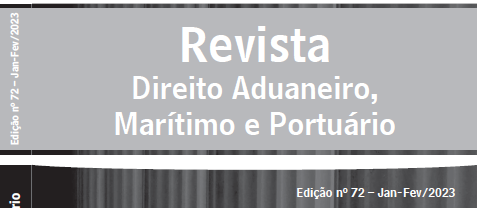
GODOFREDO MENDES VIANNA
Sócio do Kincaid | Mendes Vianna Advogados, Presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e do Mar da OAB-RJ, Membro da Associação Brasileira de Direito Marítimo.
PAULO HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA
Advogado no Kincaid | Mendes Vianna Advogados, Membro da Associação Brasileira de Direito Marítimo, Membro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional.
RESUMO: O presente artigo busca discutir a relevância do costume como fonte do Direito, especialmente do Direito Marítimo, e a adequação da arbitragem como meio de solução de controvérsias para aplicação desse costume. Para tanto, o artigo parte de uma construção histórica do Direito Marítimo, demonstrando como o costume e a arbitragem são elementos fundamentais para a segurança jurídica do comércio internacional. O artigo também posiciona o costume dentre as fontes do Direito e explica como o Direito Marítimo foi impactado pelos processos de codificação.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Marítimo; arbitragem; costume.
ABSTRACT: This article seeks to discuss the importance of custom as a source of law, especially in Maritime Law, and the relevance of arbitration as a method of dispute resolution for the application of this custom. To this end, the article starts from a historical construction of Maritime Law, demonstrating how custom and arbitration are fundamental elements to the legal certainty of international trade. The article also places custom among the sources of law and explains how Maritime Law was impacted by codification processes.
KEYWORDS: Maritime Law; arbitration; custom.
SUMÁRIO: Introdução; 1 A navegação e o Direito; 2 O costume enquanto fonte; 3 O costume e o Direito Marítimo na atualidade; 4 A arbitragem como meio adequado de solução de controvérsias e a aplicação do costume; Conclusões; Referências.
INTRODUÇÃO
O comércio marítimo levou o conhecimento dos costumes de todas as nações a todos os lugares. A frase de Montesquieu no Livro XX da obra O espírito das leis, de alguma forma, resume como o comércio impactou todos os aspectos do convívio humano, e não apenas a forma de consumo de bens e serviços.
Precisar o exato momento em que o comércio se iniciou é algo complexo, visto ser uma atividade que rapidamente se tornou inerente à sobrevivência, uma vez que o homem, em geral, não é capaz de produzir tudo o de que necessita, estabelecendo, para tanto, relações comerciais. Todavia, a profissionalização do comércio e o início dessa importante rede de transações internacionais que define o mundo como é hoje tem início com o desenvolvimento da navegação comercial.
Assim como o comércio, a navegação também é um fenômeno de desenvolvimento esparso, servindo, inicialmente, para pequenas travessias, nas quais pedaços de madeira eram utilizados como meio de transporte individual ou familiar. A navegação se desenvolveu simultaneamente em diversos lugares, de forma a tender a diversas necessidades, mas comércio, navegação e transporte se encontram em 3000 a.C.1 aproximadamente.
Desse período data a primeira rede de transporte comercial, o que ocorria entre Mesopotâmia, Barém e Rio Indo. Foi em 3.000 a.C. que transporte, navegação e comércio se encontraram de modo organizado. A partir desse ponto, o comércio, impulsionado por vias marítimas entre organizações políticas com normas e costumes diferentes e até mesmo divergentes, tornava-se uma realidade.
As embarcações deixavam de servir para o transporte de pessoas ou de bens pessoais apenas e tornavam-se verdadeiros centros de comércio – inclusive, para isso, as embarcações se tornaram cada vez mais modernas. O comandante era um gestor marítimo, mas também comercial, negociando as mercadorias em nome próprio, cumprindo obrigações e estabelecendo pactos.
Naquele momento, já despontava um problema cuja solução até hoje não foi plenamente alcançada: como conciliar os diversos regimes jurídicos nacionais que incidissem no comércio marítimo? Como estabelecer normas que fossem compreensíveis, harmônicas e que oferecessem a necessária segurança jurídica para uma atividade cuja essencialidade foi rapidamente percebida? Por meio de revisão bibliográfica, análise de julgados e normas, o presente artigo adota o método dedutivo para demonstra a relevância da arbitragem como meio adequado de solução de controvérsias marítimas, notadamente por meio da aplicação do costume enquanto fonte do Direito.
1 STOPFORD, M. Economia marítima. São Paulo: Blücher, 2012. p. 35.
Ainda, a discussão aqui formulada foi fortemente inspirada pelo evento “Arbitragem marítima: o costume e a prática”, realizado pelo Kincaid | Mendes Vianna Advogados e pelo Centro de Estudos em Direito do Mar da Universidade de São Paulo, ocasião na qual a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP e a Revista de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário foram instituições apoiadoras. O evento ocorreu em 19 de outubro de 2022, nas dependências da Faculdade de Direito da USP.
1 A NAVEGAÇÃO E O DIREITO
Logo que a navegação comercial começou a se desenvolver, notadamente na região da Mesopotâmia e, mais tarde, por meio dos fenícios, que, por volta de 1.000 a.C., passaram a realizar o transporte de carga de terceiros, percebeu-se a necessidade de um direito que desse segurança a essas operações.
Naquele momento, o comércio internacional e a construção de embarcações eram os empreendimentos mais caros da sociedade. Exigia-se, portanto, um sistema de regras próprias que garantisse alguma estabilidade e que também permitisse investimentos que cada vez mais se tornavam necessários.
O comércio internacional, em seus primórdios, não inovou apenas na prática comercial ou na forma pela qual diferentes povos se relacionavam, mas também no campo jurídico, ao apresentar obrigações e responsabilidades até então desconhecidas.
Todavia, a internacionalidade dificultava a centralização desse processo por alguma unidade política, uma vez que as normas ali estabelecidas não poderiam gerir efeitos em outras unidades políticas. Ainda, normas vinculadas à estrutura política de um povo poderiam não ser harmônicas com as demais.
Entretanto, essas dificuldades decorrentes da limitação do direito doméstico não esvaziavam a necessidade de um direito voltado ao transporte marítimo de mercadorias, principalmente naquela época em que o navio era local de comércio. Por isso, regras foram surgindo e se estabelecendo à medida que a atividade evoluía e novos desafios eram verificados.
Inicialmente, as regras foram estabelecidas de modo costumeiro, derivando da prática reiterada de determinados atos. Ou seja, os próprios envolvidos no comércio internacional passaram a agir repetidamente de determinada forma em relação a atos e fatos, até que essa postura passou a ser considerada cogente e exigível de seus pares, ainda que por pressão negocial.
Por ser então um direito eminentemente costumeiro e desvinculado das unidades políticas, era comum que fosse aplicado em caso de controvérsias por meio da decisão de especialistas e notáveis na área. Esse método de resolução de controvérsias desenvolveu-se ao longo do tempo e consolidou-se como arbitragem.
Portanto, desde os primórdios, é possível verificar a intensa conexão em Direito Marítimo, como direito aplicável ao comércio por vias marítimas, costume e arbitragem.
Com a ampliação das rotas marítimas, o interesse das unidades políticas se tornou cada vez maior. Nesse contexto, o registro mais antigo do Direito Marítimo que se tem enquanto direito doméstico é o Código de Hamurábi, elaborado na Babilônia entre 1792 e 1750 a.C.
O Código de Hamurábi é excelente exemplo da necessária estabilidade regulatória do Direito Marítimo, pois ali já figuram previsões acerca do seguro marítimo, da responsabilidade sobre os danos à carga, do abalroamento, entre outros institutos que continuam em vigor.
Em XIII a.C., o Código de Manu passaria a ser a expressão escrita do direito da sociedade hindu, regulando o câmbio marítimo e as rescisões de compra e venda.
Tanto o Código de Hamurábi como o Código de Manu decorrem de um processo de escrita do costume, em contraposição à criação e à imposição de normas. Esse processo de escrita do costume marítimo se torna uma tendência, sendo a principal técnica normativa para muitos conjuntos de regras que surgiriam. É sob essa hermenêutica que surgem as Leis de Rodes entre 900 e 400 a.C. Elas foram um instrumento de tamanha uniformidade que podem ser, inclusive, consideradas o conjunto normativo antigo mais relevante da disciplina.
O seu conjunto de usos e costumes foi de tamanha relevância que gregos e romanos o aplicaram. Ainda, como destaca Sampaio (2016, p. 14), as Leis de Rodes não eram um conjunto imutável. Disso decorre uma grande demonstração de que o costume e as normas baseadas em costumes podem ser sistematicamente atualizados e acompanharem a evolução da disciplina, como será mais bem analisado no tópico posterior.
A dimensão das Leis de Rhodes é tamanha que, por mais de um milênio, as normas derivaram diretamente daquele conjunto normativo, com maior ou menor grau de diferenciação, com destaque para o Direito Romano, período de aprofundamento da disciplina dos contratos de utilização de navios.
Por volta do ano 1000, já se verificava uma pluralidade de normas aplicáveis à navegação que iria se agravar na Idade Moderna. Em contraposição ao período marcado pela centralidade das Leis de Rodes, passou-se a verificar uma pluralidade de normas na mesma região.
Essas normas, ainda que derivadas dos mesmos costumes, não lhes conferiram interpretação uniforme. O ato de normatizar passou a ser interpretado mais fortemente como reflexo de poder, explicando, em parte, a pluralização desses compilados que buscavam esgotar a disciplina, como aponta Santos
(1968, p. 17).
Essa pluralização é bem exemplificada pelo caso das cidades marítimas italianas: Capitulare Navium (1255) como norma em Veneza, Constitutum Usus (1160) como norma em Pisa e, em Amalfi, vigorava a Tavalo Amalfitana (1274).
Inclusive a Tábua de Amalfi, como também é chamada a Tavalo Amalfitana, merece destaque por sua organização: nos 66 capítulos de sua composição, ela trazia também precedentes. Ou seja, além dos costumes, a Tábua de Amalfi compilava decisões que não derivavam do Poder Judiciário estatal como hoje identificamos, mas sim de um mecanismo de solução de controvérsias muito mais próximo do atual conceito de arbitragem, demonstrando a importância das decisões como fonte do direito e espaço de consolidação normativa do costume.
Entre os séculos XI e XII, surgiriam os Rolos de Óleron, outro conjunto normativo fundado em julgamentos, destacando a importância da compreensão dos costumes e usos quando da resolução de controvérsias. Os Rolos de Óleron também são extremamente relevantes ao demonstrar o potencial de algumas normas serem aplicadas em diferentes sistemas jurídicos, pois esse conjunto normativo era adotado por França, Holanda e Inglaterra, como indica Lacerda (1969, p. 19).
Esse processo de adoção em mais de um Estado de uma norma, sem que ela se equipare a uma convenção internacional, manteve-se de forma constante até as Ordenações de 1681. Embora não sejam inéditas, pois se baseavam, fundamentalmente, no costume, as Ordenações de 1681 seriam relevantes ao inaugurar um trabalho fruto de uma comissão com objetivo de fazer uma norma, ou seja, um processo programado, mas que não impediu a aplicação plurinacional dessa norma.
Todavia, naquela época, já se consolidava o paradigma liberal, segundo o qual a existência de normas escritas é garantia de igualdade, como aponta Carvalho Ramos (2021, p. 342), ao mesmo tempo em que se consolida o poder de legislar como instrumento de manifestação de poder do Estado.
Ou seja, havia um paradigma que cobrava normas escritas para garantia de igualdade, o que é um pilar dos sistemas democráticos tão necessários, contemporaneamente ao entendimento de que um Estado forte tem e aplica suas próprias leis – cenário que atingiria seu ápice no século XIX.
O maior símbolo dessa tendência no âmbito do Direito Marítimo é o Código Comercial francês de 1807. O Código tem duas características que foram transformadoras no contexto das normas aplicáveis à navegação e se mantêm como majoritárias até hoje, embora já existam países que se distanciam disso.
A primeira característica é a inserção do Direito Marítimo em Códigos Comerciais. A comercialização do Direito Marítimo resulta na inserção da disciplina como capítulo de Códigos Comerciais, em contraposição a normas anteriores que eram exclusivas da disciplina. Desse modo, o Direito Marítimo passa a ser observado, exclusivamente, do ponto de vista das relações comerciais, o que, sem dúvidas, não é suficiente para a complexidade da matéria.
A segunda característica, inclusive um desdobramento da primeira, é o distanciamento do Direito Marítimo e do Direito do Mar, pois, no contexto da comercialização da disciplina, não houve espaço para o Direito do Mar nos Códigos.
Esses Códigos são marcados por um processo legislativo desvinculado da escrita do costume, pois, muitas vezes, são normas criadas com interesses estatais inclusive, as quais buscam oferecer uma perspectiva nacional e nacionalizada do Direito Marítimo. Esvazia-se a uniformidade e verifica-se a fragmentação, algo tão prejudicial para uma atividade intrinsecamente internacional.
Do Código Comercial francês derivaram os Códigos dos Países Baixos, da Bélgica, do Haiti, da República Dominicana, da Espanha, de Portugal, da Argentina, do Brasil, do Uruguai, do Chile, da Costa Rica, do Peru, da Colômbia, da Venezuela, da Guatemala, de Honduras, de El Salvador, do Equador, entre
outros.
Embora muitos desses Códigos já tenham sido reformados para uma adequação à necessária uniformidade, inclusive com a retirada do Direito Marítimo dos Códigos Comerciais, como fez a própria França com seu Código dos Transportes, é inegável que a fragmentação ainda é desafio para o Direito Marítimo, inclusive diante da ausência de uniformidade.
Com a codificação, os sistemas nacionais consolidaram normas diversas, muitas vezes, inclusive, incompatíveis entre si, pois interpretações diversas surgiram.
Todavia, nada disso foi capaz de esvaziar o costume. Embora o reconhecimento do costume nas Cortes estatais tenha se demonstrado tarefa complexa, parâmetro e guia de suas atividades.
Todavia, mesmo diante das codificações, o costume nunca deixou de ser fonte do Direito, como se verá.
2 O COSTUME ENQUANTO FONTE
Edmond Picard afirma, em O Direito puro, que um direito fixado pelo costume é um murmúrio da raça, cristalizado através dos séculos. Vox pupuli. Vox dei.
Embora a definição de Picard traga a relevância axiológica do costume, a definição de Ráo (1976, p. 218) é precisa ao afirmar que “costume é a regra de conduta criada espontaneamente pela consciência comum do povo, que a observa por modo constante e uniforme e sob a convicção de corresponder a uma necessidade jurídica”.
A definição é curta, mas significativa, por trazer todos os elementos que definem o costume. A espontaneidade é elemento fundamental e demonstra que o costume não decorre de um processo artificial ou de uma criação legislativa.
A constância e a uniformidade são os elementos que conferem segurança jurídica ao costume, pois a norma de origem costumeira decorre de um processo estável e recorrente. Não é reflexo de uma prática isolada ou de uma reiteração sem características comuns. O costume não decorre de uma repetição, mas sim de uma recorrência estável.
Entretanto, não há costume mesmo que diante de uma prática espontânea, constante e uniforme. É imprescindível que exista convicção de que se trata de uma necessidade jurídica, de uma prática juridicamente adequada, de uma aplicação do melhor direito.
Combinados, esses elementos fundamentais conferem ao costume uma característica de estabilidade, que não se confunde com imutabilidade, e uma uniformidade necessária à indústria. Como decorrem de uma prática reiterada, refletem a posição dos envolvidos em determinado negócio jurídico acerca do direito aplicável, independentemente de uma criação legislativa.
Por óbvio, o costume não pode contrariar normas de ordem pública, e isso decorre, inclusive, da convicção de que se trata de um entendimento com valor jurídico.
Por séculos, o costume foi a fonte por excelência do Direito; todavia, em algumas áreas e contextos, considerando, inclusive, o maior número de envolvidos, deixava-se de verificar alguns de seus elementos, seja a convicção jurídica, seja a uniformidade, por exemplo.
Entretanto, o maior enfrentamento filosófico que o costume sofreu entre os séculos XV e XVIII não era acerca de sua percepção, mas sim de sua aplicação.
Com a consolidação do pensamento liberal e as cobranças crescentes por tratamento jurídico igualitário, a norma escrita passou a ser considerada pilar da segurança e da garantia da aplicação sem distinção do sujeito da demanda.
Norma escrita e costume não são opostos, mas, em verdade, como demonstrado ao longo deste trabalho, a norma escrita surgiu como um processo de anotação e interpretação do costume. Todavia, ao escrever, limitava-se a interpretação e o conteúdo literalmente à redação posta, o que, muitas vezes, não foi suficiente para captar a essência e a dimensão do costume.
Também é preciso considerar que a norma escrita, na maioria das vezes, decorre de um processo legislativo no qual os agentes não são habituados à indústria ou ao mercado para o qual legislam. Não se trata de uma crítica, mas de uma limitação inerente à tarefa de produzir normas para todos os aspectos da vida.
A estabilidade da norma escrita também se mostra, em diversas situações, menos flexível que o costume. Enquanto o costume se transforma suavemente, a norma escrita é substituída ou reformada.
A inexistência de oposição entre costume e norma escrita e a possibilidade de convívio harmônico enquanto fontes do Direito estão determinadas na atualidade. No contexto do Direito Internacional, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, considerado o texto legal que define as fontes do Direito Internacional, assim aponta, conforme tradução do Decreto nº 19.841/1945:
Art. 38. 1. A Côrte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará:
a) as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes;
b) o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito;
c) os princípios gerais de direito reconhecidos pelas Nações civilizadas;
d) sob ressalva da disposição do art. 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes Nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. (grifos nossos)
Ou seja, no Direito Internacional, o costume está posto lado a lado da norma escrita – nesse caso, as convenções internacionais. Interessante notar que o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ao mesmo tempo em que elenca o costume como fonte, define-o ao determinar que se trata de uma prática geral aceita como Direito.
Mas não é apenas o Direito Internacional que reconhece o costume como fonte, pois os sistemas domésticos também assim o fazem. Nos sistemas jurídicos de commom law, o costume continua na centralidade das fontes, sendo interpretado e estabilizado pelas decisões.
Nos sistemas de civil law, o costume, em geral, tem posição de complementaridade à norma escrita. É assim que determina o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.
Portanto, considerando nosso objeto de estudo, observa-se que a aplicação do costume é complementar à norma escrita. Essa redação cria dificuldades até para a aplicação do costume, quando ele reflete uma norma específica, o que, em conformidade com a LINDB, seria suficiente para derrogar a norma anterior.
Todavia, mesmo diante de norma específica, ela deve ser interpretada à luz dos costumes, pois assim dispõe o art. 113 do Código Civil, inclusive modificado em 2019, quando se deu ainda maior relevância ao costume:
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
I – for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
II – corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
Desse modo, as normas do ordenamento jurídico brasileiro inseriram o costume não só como fonte, mas como critério de interpretação. Todavia, a prática frente aos tribunais demonstra que a aplicação do costume não é tão simples.
Como demonstrando, o costume é uma prática não escrita percebida e construída pelos agentes de uma indústria, por isso a sua aplicação por um julgador não especializado, embora não seja impossível, é mais complexa.
Inclusive se destacam decisões recentes nas quais o costume como fonte do direito é muito bem aplicado pelos tribunais estaduais, sendo a manifestação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Processo nº 0000409-73.2017.8.21.7000 e do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo nº 1017219-07.2017.8.26.0004 os mais relevantes exemplos.
Todavia, em regra, verifica-se, então, um cenário no qual o costume, fonte por excelência do Direito Marítimo, perdeu espaço para a norma escrita e tem sua aplicação mesmo quando reconhecido como fonte obstaculizada pela ausência de conhecimento específico do seu julgador. Diante desse cenário, a indústria realizou importantes feitos.
3 O COSTUME E O DIREITO MARÍTIMO NA ATUALIDADE
No que tange à indústria marítima, em razão de sua própria especificidade e internacionalidade, o costume não pode facilmente ser absorvido ou substituído por normas escritas tipicamente domésticas.
A fragmentação que se indicou com o processo de difusão dos Códigos Comerciais nos quais se incluía o Direito Marítimo agravou-se com a pulverização de normas aplicáveis, pois não demorou a ser percebido que o aspecto comercial não era suficiente. Com isso, surgiram diversas normas esparsas em
diversos países, o que dificulta ainda mais a uniformidade.
Na indústria marítima, a uniformidade, mais do que uma facilidade de conhecimento do direito aplicável, é condição fundamental para a segurança jurídica. Numa indústria cujos valores são elevados e a coletividade de interessados é volumosa, a ausência de segurança jurídica dificulta a realização da atividade, aumentando custos.
Em algumas situações, a ausência de segurança jurídica, de uniformidade e de previsibilidade da legislação aplicável é, inclusive, razão da desistência de investimentos e projetos, ainda mais considerando que muitas realizações nessa indústria precisam de anos de funcionamento para pagar seus próprios custos.
Rapidamente, a comunidade marítima percebeu que, sem o costume, estaria obstaculizada. Diante disso, iniciaram-se esforços para inserção do costume dentro da estrutura jurídica que se apresentava.
Como o legislador, muitas vezes, criava a norma ou interpretava o costume de maneira limitante na sua conversão em norma escrita, o setor marítimo também passou a escrever o costume e a dar maior formalidade aos atos. Todavia, embora fossem agentes do costume, faltava-lhes a competência para a
criação de leis.
Dentro desse contexto, a liberdade contratual, também decorrente da consolidação de um pensamento liberal, serviu como instrumento de aproximação do costume e do direito doméstico posto.
A elaboração de contratos que refletissem o estado da arte dos costumes marítimos seria a principal solução encontrada. Nesse contexto, destaca-se a BIMCO – Baltic and International Maritime Conference –, fundada em 1905 e que, desde então, dentre outros assuntos, dedica-se à formulação de contratos- padrão e de cláusulas para indústria da navegação, sendo que, hoje, administra mais de 350 contratos e cláusulas.
A BIMCO é uma associação privada que conta com mais de 1900 membros e realiza estudos, seminários e eventos para elaboração de seus contratos e cláusulas, que são expressão do costume.
Uma vez adotados esses contratos, as partes se vinculam em razão da liberdade contratual. Entretanto, mesmo diante de instrumentos contratuais precisos, nem sempre a interpretação do Judiciário se demonstra suficiente, principalmente quando as decisões necessitarem de interpretação e de conhecimento técnico. É nesse contexto que a cláusula de jurisdição aplicável, muitas vezes,
determina o foro arbitral como mais adequado e eficiente.
4 A ARBITRAGEM COMO MEIO ADEQUADO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS MARÍTIMAS E A
APLICAÇÃO DO COSTUME
A arbitragem é um meio de solução de controvérsias no qual as partes elegem por quem será resolvido o conflito de modo vinculante. A escolha daquele ou daqueles que decidirão decorre, fundamentalmente, da sua especialidade em relação ao tema.
Como demonstrado, na evolução histórica do Direito Marítimo, a arbitragem sempre se apresentou como o meio adequado da resolução das controvérsias.
Primeiro, em razão da internacionalidade intrínseca da atividade num cenário em que não existia uma Corte supranacional ou capaz de produzir decisões aplicáveis em diferentes unidades políticas, mas também em razão das especificidades de uma indústria que deveriam ser conhecidas para adoção da
melhor decisão.
Ainda, as relações privadas internacionais demandam especificidades para resolução dos litígios. É preciso que a solução seja factível nos diversos sistemas jurídicos em que emana seus efeitos, bem como seja razoável em relação à vontade contratual das partes.
Escolher decidir um conflito por meio da arbitragem é se preocupar com uma decisão de precisão técnica que reflita não apenas a relação das partes, mas também os usos e costumes de uma indústria.
A possibilidade de eleição do direito aplicável na arbitragem, inclusive do costume, garante uma possibilidade de melhor aplicação do direito estrangeiro e da interpretação do contrato à luz dos princípios gerais de direito do sistema jurídico no qual foi elaborado.
As vantagens da arbitragem para resolução das controvérsias marítimas são diversas e podem ser objeto de estudo próprio, como já foram. Entretanto, considerando o objeto deste artigo, é importante demonstrar como a arbitragem é o meio adequado para resolver controvérsias nas quais a aplicação do costume seja fundamental.
A nível internacional, a escolha da lei aplicável à resolução de controvérsias dispondo sobre direitos patrimoniais disponíveis é um dos pilares da arbitragem. A Lei de Arbitragem Brasileira também garante essa possibilidade, ao assim dispor:
Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes.
§ 1º Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.
§ 2º Poderão, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. (grifos nossos)Portanto, ao garantir que as partes podem convencionar a resolução de uma controvérsia por meio do costume, a arbitragem serve como instrumento de conexão da resolução do conflito com a indústria em que se insere.
Não obstante, a possibilidade de eleição da lei aplicável permitiu e continua a permitir que, mesmo em momentos nos quais a norma de uma determinada jurisdição não reflita as necessidades e expectativas de nenhuma das partes, elas poderão, mediante acordo, estabelecer e contratar adotando outro direito de regência. Essa característica pitoresca bem evidencia a utilização pioneira da arbitragem em disputas marítimas, presente no vetusto e parcialmente revogado Código Comercial Brasileiro de 1850, que já estabelecia que, no caso de abalroação, as causas do acidente seriam objeto de arbitragem no porto local, a saber:
Art. 749. Sendo um navio abalroado por outro, o dano inteiro causado ao navio abalroado e sua carga será pago por aquele que tiver causado a abalroação, se esta tiver acontecido por falta de observância do Regulamento do porto, imperícia, ou negligência do capitão ou da tripulação; fazendo-se a estimação por
árbitros.
Art. 750. Todos os casos de abalroação serão decididos, na menor dilação possível, por peritos, que julgarão qual dos navios foi o causador do dano, conformando-se com as disposições do Regulamento do porto, e os usos e prática do lugar. No caso dos árbitros declararem que não podem julgar com segurança qual navio foi culpado, sofrerá cada um o dano que tiver recebido. (grifos nossos) Por esses motivos, desde sua construção histórica, a arbitragem é o meio por excelência da resolução de controvérsias de Direito Marítimo, pois, quando o Direito Material deixou de oferecer uniformidade, a arbitragem apresentou mais esta vantagem: a possibilidade de, por meio do direito processual, garantir
segurança jurídica necessária às operações.
CONCLUSÕES
A relação entre a arbitragem e o Direito Marítimo remonta ao próprio surgimento da disciplina, quando a solução de controvérsias por julgador eleito pelas partes era a realidade diante da ausência de tribunais competentes para uma atividade internacional.
Ainda, o desenvolvimento técnico e as especificidades da atividade exigiam a aplicação de conhecimentos específicos para que as divergências fossem adequadamente resolvidas em um momento no qual os usos e costumes regiam o direito material.
Com o passar do tempo, o Poder Judiciário ampliou sua abrangência, assim como os Estados passaram a legislar sobre mais temas, inclusive de modo tipicamente doméstico. Esse movimento não afetou a internacionalidade do Direito Marítimo, mas era necessário conter seus efeitos em relação à segurança jurídica.
Diversos autores conferem ao costume um tom histórico; todavia, o costume é uma fonte do direito atual e precisa, cujos elementos essenciais, notadamente a convicção jurídica, demonstram sua relevância.
O entendimento de que o costume não é imutável, mas, inclusive, mais rápido que a elaboração da norma por meio de processos legislativos, fornece uma importante fonte para resolução das controvérsias inéditas ou decorrentes de novos negócios jurídicos.
No contexto do comércio internacional, os contratos-tipo da BIMCO e os incoterms são elementos que demonstram os esforços privados para consolidação do costume por meio da liberdade contratual, deixando evidente que não é possível desvincular costume e Direito Marítimo.
Nesse vínculo intrínseco, a arbitragem se mantém como meio adequado, sendo método de solução de controvérsias que absorve as necessidades específicas da indústria marítima. Ainda, considerando a evolução dos procedimentos arbitrais, estes também oferecem segurança em relação ao procedimento, apresentando decisões exequíveis e executáveis.
Todavia, é importante ter em conta que arbitragem e Poder Judiciário não estão em lados opostos, pois não se trata de uma disputa da melhor jurisdição.
Em verdade, a colaboração entre arbitragem e Poder Judiciário revela-se fundamental, valendo destacar as intersecções que hoje a jurisdição estatal acaba por absorver do sistema arbitral, como o negócio processual e a crescente especialização das varas e câmaras, em razão da matéria, como, exemplificativamente, as varas empresariais e, mais recentemente, as câmaras empresariais no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, que processam e julgam as lides que versem sobre Direito Marítimo.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, N. de. Contratos internacionais: autonomia da vontade, Mercosul e convenções internacionais. Rio de Janeiro, Renovar, 2009.
BERMAN, H.; KAUFMAN, C. The law of international commercial transactions (lex mercatoria). Harvard International Law Journal, v. 19, n. 1, 1978.
CARVALHO RAMOS, A. de. A construção do direito internacional privado: heterogeneidade e coerência. Salvador: JusPodivm, 2021.
FAYLE, C. E. A short history of the world’s shipping industry. Londres: George Allen & Unwin, 1933.
GALGANO, F. The new lex mercatoria. Annual Survey of International & Comparative Law, Vol. 2: Iss. 1, Article 7, 1995.
GOLDMAN, B. Frontières du droit et lex mercatoria. Le droit subjectif em question.
In: Archives de Philosophie du Droit, Paris: Sirey, t. 9, 1964.
GOLDSTAJN, A. The new law merchant reconsidered. In: CLIVE, F. F.; SCHMITTHOFF, M. Law and international trade, 1973.
HUCK, H. M. Sentença estrangeira e a lex mercatoria: horizontes e fronteiras do comércio internacional. São Paulo: Saraiva, 1994.
PEREIRA, R. L. G. Arbitragem marítima: uma visão global. Rio de Janeiro: Catau, Femar, 1997.
RÁO, V. O Direito e a vida dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976.
SAMPAIO, R. de L. V. Direito privado marítimo-romano: a disciplina jurídica do alijamento. São Paulo: Quartier Latin, 2016.
SANTOS, T. de A. Direito da navegação marítima e aérea. Rio de Janeiro: Forense, 1968.
STOPFORD, M. Economia marítima. São Paulo: Blucher, 2012.
STRENGER, I. Direito do comércio internacional e lex mercatoria. São Paulo: LTr, 1996.
Fonte: Revista de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário